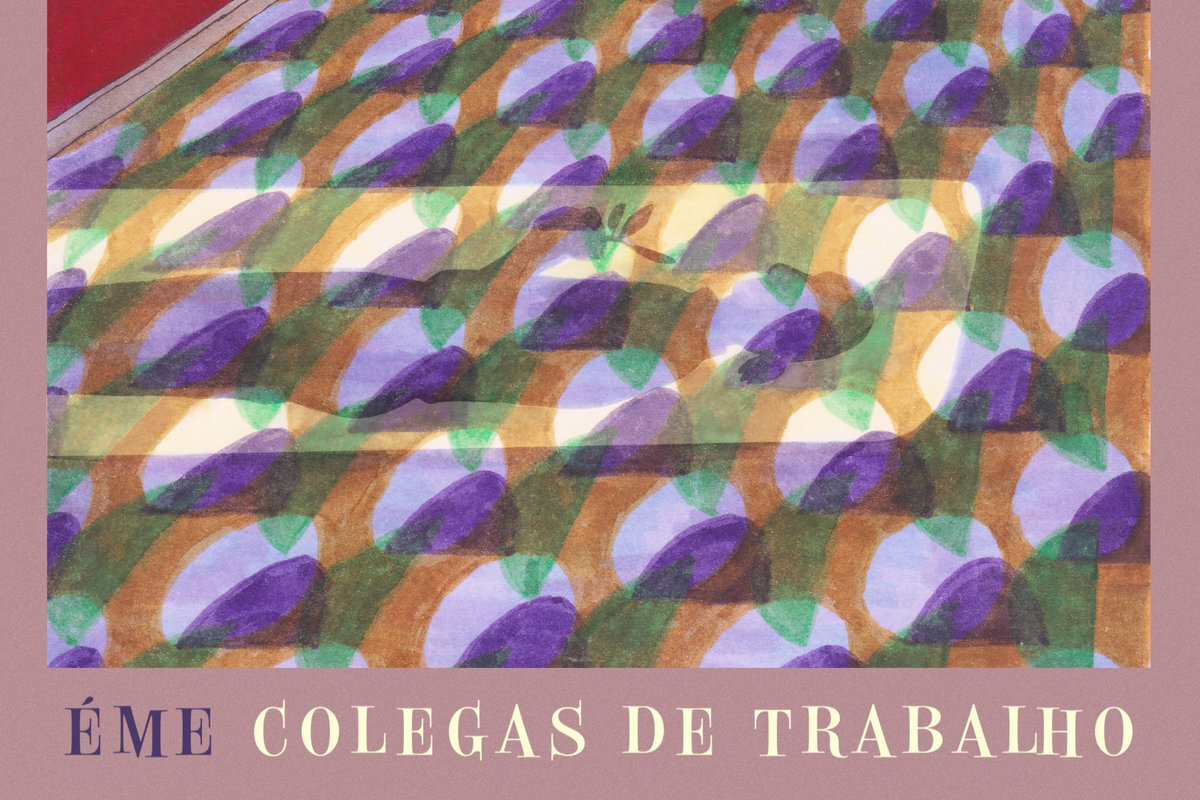Vinte e quatro anos depois do último álbum de estúdio e catorze após a última edição de material novo, os Pulp regressaram com More, um disco que é, como o próprio título sugere, mais do que um mero regresso. É uma reafirmação, não tanto de glória passada, mas de relevância presente. Num tempo em que tantas reuniões servem apenas como exercício nostálgico ou pretexto para digressões lucrativas, More é, surpreendentemente (ou não), um álbum com algo a dizer. E, ainda mais surpreendente, diz essas coisas com a fluidez, estranheza e charme que sempre definiram a banda.
Desde a primeira faixa, “Spike Island”, fica claro que Jarvis Cocker continua a ser o mesmo gentleman verbal de sempre — agora com cabelos grisalhos e um olhar mais contemplativo. A canção revisita o mítico concerto dos Stone Roses para ironizar não só sobre a mitologia britpop como sobre a própria mitologia pulpiana. Mas este não é um álbum obcecado com o passado. Pelo contrário: é um disco feito a partir dele, com consciência plena do tempo que passou, e do que se perdeu (e ganhou) com isso.
Jarvis canta como quem escreve nas margens do quotidiano, entre supermercados e divórcios tardios, entre relações que não vingaram e fantasmas do desejo que ainda persistem. Faixas como “Grown Ups” e “My Sex” abordam a sexualidade e o envelhecimento com a frontalidade suja e sarcástica que só Cocker sabe transformar em poesia pop. “Life’s too short to drink bad wine” canta em “Grown Ups”, como se estivesse a brindar à meia-idade com um copo de tinto barato e uma piscadela ao espelho.
Musicalmente, More é uma destilação precisa de todos os elementos que tornam os Pulp inconfundíveis: o disco esfarrapado, o art pop teatral, os arranjos que vão do kitsch ao sublime e aquele lirismo falado que habita entre o sarcasmo e a melancolia. A produção de James Ford revela-se um trunfo — polida sem ser plástica, com uma atenção ao detalhe que dá músculo às faixas mais festivas (“Got To Have Love”, um hino dançável com letra quase pornográfica) e subtileza às mais contemplativas (“A Sunset”, um adeus de pôr-do-sol com coros da família Eno incluídos).
Há, como em todos os grandes discos dos Pulp, espaço para o grotesco e para o belo, muitas vezes no mesmo verso. “Tina” transforma um acaso romântico numa rapsódia flamenca sobre arrependimento e desejo em cima de sacos do lixo; “Slow Jam” mistura soul lasciva com ecos de Scott Walker e Barry White, numa cama sonora que soa tão envelhecida como intemporal. E se algumas faixas da segunda metade do álbum (“Partial Eclipse”, “Background Noise”) deslizam para um registo mais crepuscular e interior, nunca perdem o brilho das observações certeiras nem a estranheza tipicamente de Cocker.
Há ainda algo de profundamente comovente em ouvir este álbum à luz da morte do baixista Steve Mackey em 2023. More soa, em muitos momentos, como um tributo velado — não apenas a Mackey, mas à própria amizade, à banda como espaço de reinvenção e à ideia de que ainda há qualquer coisa para dizer, mesmo quando se pensa que já tudo foi dito. “I am not aging / I am just ripening”, diz Jarvis — e o álbum inteiro parece concordar.
More não é apenas um bom disco de regresso. É um excelente disco de Pulp. E isso, por si só, é algo raro — porque não é um disco que tenta reviver o passado, mas que o olha nos olhos e decide avançar, com ironia, desejo e a sabedoria de quem já esteve cá antes, e sabe que tudo pode acabar a qualquer momento. “Don’t remember the first time”, canta ele, ecoando versos antigos com novos significados. Este regresso sabe tão bem como a primeira vez.