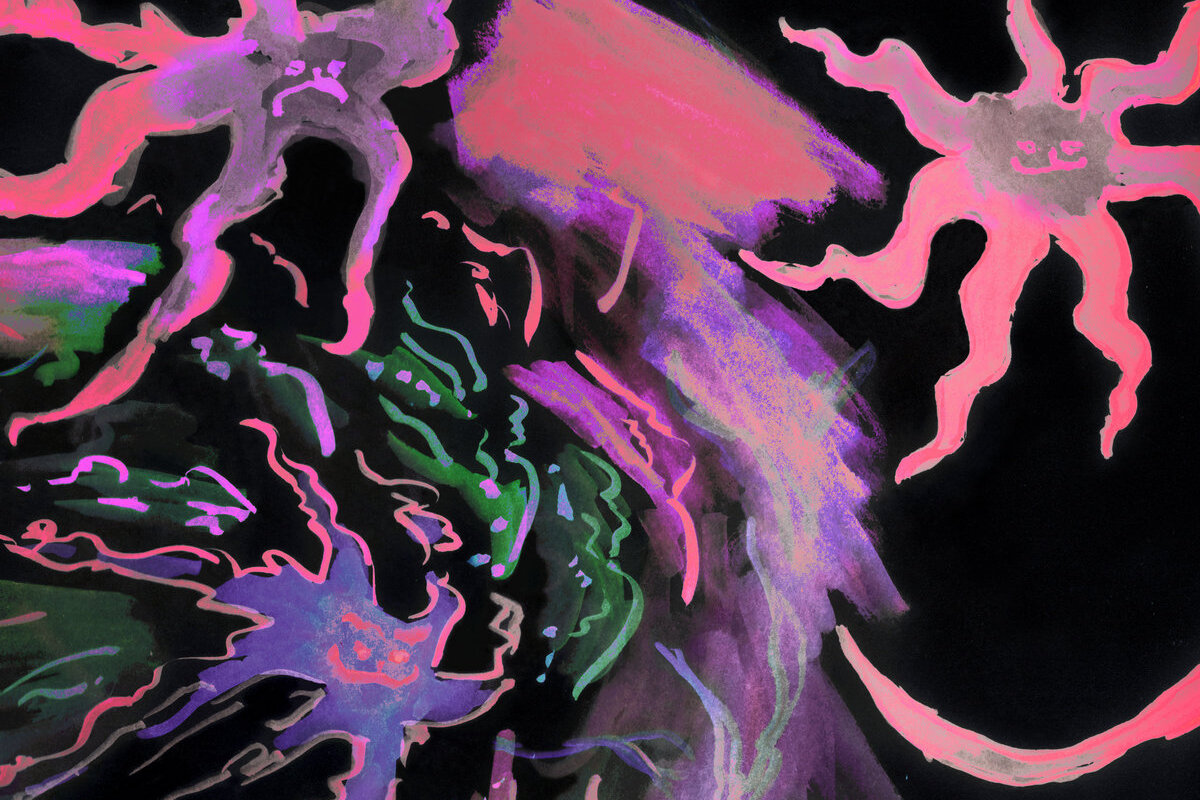Depois de dois golpes certeiros que o catapultaram para a linha da frente do cinema de autor contemporâneo – “Hereditary” e “Midsommar” –, Ari Aster parecia ter o mundo aos seus pés. O terror psicológico que filmou com precisão quase cruel abriu-lhe portas e, mais importante, conquistou um público que gosta de ver o desconforto transformado em espetáculo estético. Mas, como acontece tantas vezes em Hollywood (e fora dela), a vontade de mudar de pele pode ser um veneno.
“Eddington”, a mais recente investida do realizador, confirma essa deriva. Já o anterior filme, recebido em Cannes com frieza e algum embaraço (tal como este), deixava sinais de alarme. Agora, Aster arrisca uma abordagem mais híbrida, afastada do terror, mas o resultado é um corpo estranho, pesado e sem o impacto emocional ou narrativo a que nos habituou. O filme não encontra voz própria: nem é ousado o suficiente para rasgar, nem é coeso para convencer.
A história parte de uma comunidade isolada que tenta reorganizar-se após os anos da pandemia — um trauma ainda demasiado fresco para o público. O filme pede ao espectador para olhar para feridas que ainda não cicatrizaram, sem lhe dar em troca nada de novo ou catártico. E isso torna “Eddington” uma experiência mais extenuante do que reveladora.
No elenco, nomes que fariam qualquer produtor salivar: Joaquin Phoenix (já colaborador habitual do realizador), Pedro Pascal em mais um dos papéis que fazem dele o “homem omnipresente” de 2025, e ainda Emma Stone e Austin Butler. Mas aqui reside outro dos problemas: talento há, mas o guião raramente lhes dá espaço para brilhar. Phoenix, sempre intenso, parece preso num registo já conhecido; Pascal sobrevive mais pelo carisma que pelo material que lhe é oferecido; e Stone e Butler acabam praticamente desperdiçados, reduzidos a presenças decorativas quando podiam ter sido motores dramáticos.
A ambição de Ari Aster é visível: quer fazer cinema maior, mais abrangente, libertar-se da etiqueta de “realizador de terror”. Mas “Eddington” tropeça precisamente no excesso de pretensão. A narrativa dilui-se, o ritmo arrasta-se e, no final, o espectador sai da sala com a sensação de que tudo se podia ter resolvido em metade do tempo – e com muito mais impacto.
Se os primeiros filmes o consagraram como um dos autores do momento, estes dois últimos parecem estar a corroer esse estatuto. Não é que Aster tenha perdido o talento: perdeu, sim, o foco.